O que mudou na minha vida depois do diagnóstico – e como luto todo dia para driblar as dificuldades e seguir trabalhando
PAULO JOSÉ, EM DEPOIMENTO A FLÁVIA YURI OSHIMA

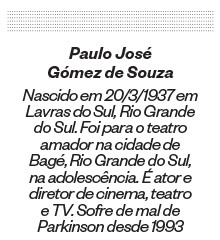
▪ 1993, Rio de Janeiro, RJ, Brasil ▪
Já lá se foram 20 anos! Era final de 1993, e eu jamais poderia acreditar que chegaria ao século XXI carregando esse Parkinson comigo. O mal de Parkinson foi descrito pela primeira vez por James Parkinson, em 1817. Ele se caracteriza pela falta de dopamina, um neurotransmissor produzido na substância nigra do cérebro, cuja ausência é responsável por discinesias, movimentos involuntários dos braços, pernas e cabeça, além de tremores. Há perda de expressão do rosto e da voz, sensação de carregar mais de 20 quilos em cada pé, mão trêmula de pedinte, cara de bobo ou de jogador de pôquer, redução na potência vocal, falta de equilíbrio e visão dupla. Enfim, uma doença degenerativa e incurável que pode ser de origem genética ou ambiental, não se sabe bem de onde vem, mas sabe-se para onde vai. É um prato cheio de sintomas que só tendem a piorar, principalmente quando se tem uma vida sem rotina.
Falta de rotina é da natureza do ofício de ator de teatro. O teatro é uma atividade noturna. O jantar ocorre só depois do espetáculo, vai-se dormir lá pelas 2 ou 3 horas da manhã e, quando as outras pessoas descansam, nos finais de semana, é quando mais se trabalha. O cinema também é assim. A atividade começa às 4 ou 5 horas da manhã, para tirar proveito da luz do sol. O filme é rodado das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. Isso sem falar das noturnas, que acabam às 6 horas da manhã. E tem ainda aquela participação na TV, com gravações externas de manhã e à noite. Com essa não rotina, nosso médico vem falar em vida saudável – a que horas, meu Deus do céu?!
Hoje já fumei dois cigarros. Quando tenho de dar uma entrevista, fico muito ansioso. O cigarro me acalma. Como diria o Mario Quintana: “Fumar é uma maneira disfarçada de suspirar”. Há 15 anos, recebi outro diagnóstico, de enfisema pulmonar. Não é câncer, mas mata. O pulmão enrijece, acaba-se sem ar. Fumo pouco, cinco cigarros por dia, no máximo. Às vezes, nenhum.
Já lá se foram 20 anos! Era final de 1993, e eu jamais poderia acreditar que chegaria ao século XXI carregando esse Parkinson comigo. O mal de Parkinson foi descrito pela primeira vez por James Parkinson, em 1817. Ele se caracteriza pela falta de dopamina, um neurotransmissor produzido na substância nigra do cérebro, cuja ausência é responsável por discinesias, movimentos involuntários dos braços, pernas e cabeça, além de tremores. Há perda de expressão do rosto e da voz, sensação de carregar mais de 20 quilos em cada pé, mão trêmula de pedinte, cara de bobo ou de jogador de pôquer, redução na potência vocal, falta de equilíbrio e visão dupla. Enfim, uma doença degenerativa e incurável que pode ser de origem genética ou ambiental, não se sabe bem de onde vem, mas sabe-se para onde vai. É um prato cheio de sintomas que só tendem a piorar, principalmente quando se tem uma vida sem rotina.
Falta de rotina é da natureza do ofício de ator de teatro. O teatro é uma atividade noturna. O jantar ocorre só depois do espetáculo, vai-se dormir lá pelas 2 ou 3 horas da manhã e, quando as outras pessoas descansam, nos finais de semana, é quando mais se trabalha. O cinema também é assim. A atividade começa às 4 ou 5 horas da manhã, para tirar proveito da luz do sol. O filme é rodado das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. Isso sem falar das noturnas, que acabam às 6 horas da manhã. E tem ainda aquela participação na TV, com gravações externas de manhã e à noite. Com essa não rotina, nosso médico vem falar em vida saudável – a que horas, meu Deus do céu?!
Hoje já fumei dois cigarros. Quando tenho de dar uma entrevista, fico muito ansioso. O cigarro me acalma. Como diria o Mario Quintana: “Fumar é uma maneira disfarçada de suspirar”. Há 15 anos, recebi outro diagnóstico, de enfisema pulmonar. Não é câncer, mas mata. O pulmão enrijece, acaba-se sem ar. Fumo pouco, cinco cigarros por dia, no máximo. Às vezes, nenhum.
Descobri que tenho Parkinson em 1993. Estava fazendo um Você decide especial. Quis encerrar o ano com um superprograma, com orquestra sinfônica e três finais para o público decidir qual iria ao ar – normalmente, eram dois finais. Superestimei minha capacidade como diretor. Era um programa cheio de música clássica – Brahms, Beethoven, Mozart, Mahler –, executada pela Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal. Tudo era grandioso. Foi uma edição complicadíssima que me consumiu três dias e três noites, sem sair da ilha de edição. Entreguei a versão final uma hora antes do início do programa. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Menos o comandante, que afundou com o navio, proferindo suas últimas palavras: “My kingdom for a horse. White Horse... on the rocks” (uma brincadeira com o uísque White Horse e o trecho famoso, de Ricardo III, de Shakespeare: “Meu reino por um cavalo”). Alguém me deu um copo com uísque para comemorar. Ao primeiro gole, fiquei tonto e desmaiei. Me recuperei, fui para casa e, no dia seguinte, dormi 22 horas seguidas. Ao acordar, fui tomar o café da manhã. Meu corpo não obedecia a meu cérebro. Minhas mãos não faziam coisas simples como passar manteiga no pão ou escovar os dentes.

Descobrir a doença não foi um choque. Sabia que ninguém morre de Parkinson, se morre com Parkinson. E ainda não tinha noção da gravidade. Com o tempo, os sintomas tornaram-se mais fortes. O enrijecimento geral, a perda de movimento. As pessoas mudaram comigo. Queriam me proteger. Ficaram com pena. Isso nunca me incomodou. Sou um sobrevivente. Tenho muita sorte por ter gente que gosta de mim.Tenho de ser grato por isso. E sou.
Sempre tive apoio da família, da minha mulher, Kika, dos meus filhos e dos meus pais (que ainda viviam no começo da doença) e de meus colegas, a começar pelo Boni (José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, na época vice-presidente da TV Globo). Este, isso era proverbial, não podia ver ninguém doente sem querer ajudar. Me chamou em sua sala, pegou um livro grosso, um Who is who da medicina. Ficou procurando no índice “par, par, Parkinson”. Por fim, disse: “O melhor lugar para tratar seu caso é o Instituto Presbiteriano, em Nova York. É para lá que você vai, falar com o médico Stanley Fahn. A Globo arrumará tudo”. O Boni mandou, eu obedeci. Nunca foi tão rápido tomar uma decisão. Era o Método Boni em ação. Fui muito bem tratado. Fiz toda a sorte de exames e voltei disposto a me cuidar.
Comecei a me tratar com o médico James Pitágoras. Ele monitorava a medicação de acordo com meu estado geral. Se você passa a tomar mais de um medicamento forte, tem de tomar outro para minimizar os efeitos nocivos do primeiro. Tem um ponto em que há a síndrome do uso prolongado do medicamento. Quando isso ocorre, ele começa a te dar justamente aquilo que pretendia atacar. Ficava com os sintomas do Parkinson mais aguçados. Ainda tenho problemas de equilíbrio. A medicação mexeu muito com minha libido. Ora ficava exacerbada, ora sumia. Tudo isso você vai ajustando enquanto toca a vida. “É com o andar da carroça que se ajeitam as melancias.”
Já passei diversos vexames por causa do Parkinson. Há dez anos, fui convidado para participar do programa de entrevistas Roda viva. Ficaria exposto em cadeia nacional. Fiquei nervoso. Então, fiz um coquetel de Levodopa (a principal medicação para tratamento do Parkinson) com um relaxante. O tiro saiu pela culatra. Fiquei com os movimentos mais acentuados. Perdi o controle da mão direita. O cartunista Chico Caruso desenhava o entrevistado. Ele me fez com seis mãos, parecia um polvo com cabeça de homem, de tanto que mexia os braços. Consegui dar a entrevista. Mas fiquei muito chateado.
Quando o efeito da medicação diminuiu, James Pitágoras me recomendou um novo tratamento. A novidade trazia os riscos de toda cirurgia com pequeno histórico. Fui parar num mestre em abrir cabeças, o Paulo Niemeyer Filho. Ele abriu a minha e colocou lá dentro uma espécie de marca-passo, conhecido como DBS, Deep Brain Stimulation (estimulação profunda do cérebro, na tradução do inglês). Niemeyer e sua equipe não me cobraram nada. A Globo cobriu a maior parte dos tratamentos.
Tive depressão muitas vezes. Houve um tempo em que tinha medo de dormir e não acordar. Às vezes, tenho medo de morrer. Não estou num daqueles momentos terríveis. Mas tampouco este é um período fácil. Quando acordo, tenho de fazer uma escolha. Decido sair da cama. Hoje será um dia melhor. Ao me deitar, não penso se o dia foi mesmo melhor. Só penso: “Amanhã será um outro dia”. Assim, sigo trabalhando e vivendo dia por dia.

Quando decidi largar a faculdade de arquitetura, no 3o ano, foi um alvoroço em casa. Havia anos, eu fazia teatro amador. Percebi que tinha de tomar uma decisão: ou largava o teatro, ou ficava nessa mesmice amadora, meio artista, meio engenheiro. O coração falou mais alto. Contei para minha mãe que decidira ser ator. Ela disse: “Tu tens certeza, Paulo?”. Foi falar com meu pai. Ele me chamou. “Tu queres largar a faculdade?” “Sim, quero”, respondi. “Tu queres ser ator?” “Sim, quero”, continuei, com firmeza apreensiva. “Já estás decidido, não adianta argumentar?”, disse ele, bem sério. Diante da minha confirmação, sentenciou: “Então, vai embora daqui. Vai morar em outro lugar”, falou baixo e com firmeza. Senti que não tinha mais lugar na casa paterna. A grande surpresa – que me enche os olhos até hoje – estava reservada para o final. Já saindo da sala, parou e concluiu em tom quase secreto: “Tu vais morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo”. Depois de uma breve pausa, arrematou: “E eu te ajudo”. Como se pode ver, sempre tive muita sorte.
Me casei quatro vezes. Tenho quatro filhos e dois netos. Meus primeiros três casamentos foram com atrizes: Dina Sfat, Carla Camuratti e Zezé Polessa. Estou há 15 anos casado com a Kika Lopes (figurinista e cineasta), que trouxe um filho já pronto para nosso casamento, o Tiago. A Dina Sfat é mãe das minhas três filhas: a Bel, a Ana e a Clara Kutner. Fiquei com ela por 14 anos. Dina era judia. Ela não frequentava as tradições, mas as tradições sempre a frequentaram. Então, também fui judeu por 14 anos. Meu quarto filho, o Paulo Henrique, é filho de Bethy Caruso.Como o filho, ela mora em São Paulo. Sempre estive com alguém. Gosto muito do casamento. Tanto que me casei quatro vezes.
Com a minha profissão também é assim. Estou sempre envolvido. Nunca parei de trabalhar. Nos últimos 20 anos, dirigi dez peças, participei de 19 filmes e 18 programas de TV, entre séries e novelas. Dirigi mais de 200 comerciais. Em todos esses trabalhos, o Parkinson estava lá. Ele tem sido meu companheiro de palco, de estúdio, de vida. Para atuar, fico extremamente calmo. Sei as falas, o que vai acontecer e tenho serenidade para encontrar soluções para quando fico com a mão boba. Todos os dias faço duas sessões de fisioterapia, aulas de voz, toco piano para exercitar os dedos, nado e tomo remédios, muitos, cinco vezes ao dia. Além do controle dos movimentos, minha luta agora é para preservar a voz, que já me rendeu um bocado de grana, mas está um lixinho.
No ano que vem, estarei na próxima novela de Manoel Carlos. Vai me ocupar de fevereiro a setembro. Ainda neste ano tenho alguns projetos para finalizar. Estou reescrevendo o curso de direção e atuação que criei na Globo em 1998. Sigo em breve para o Rio Grande do Sul com a peça que dirigi, Murro em ponta de faca. E trabalho na seleção de narrações para um audiolivro de poesias. Hoje, esses projetos são suficientes para me manter ocupado e não pensar na marvada.
O mais importante é que nunca deixei de ser bobo. Para citar nossa escritora (Clarice Lispector): “Ser bobo é ter boa-fé, não desconfiar e, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem sabe que venceu. É quase impossível resistir ao excesso de amor que o bobo provoca… O bobo é capaz de excesso de amor e só o amor faz o bobo”.
Nenhum comentário:
Postar um comentário