Mais de um século após abolir a escravatura, Brasil e EUA apenas agora começam a reconstituir a história de seus heróis negros
MARCELO MOURA
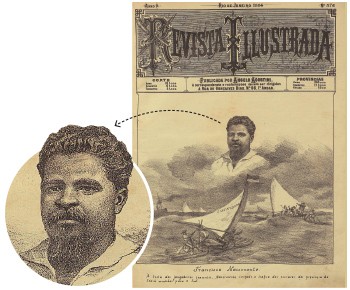
Doze anos de escravidão, produção do diretor britânico Steve
McQueen, entrou para a história do cinema ao ganhar o Oscar de Melhor Filme,
na premiação da noite
do último dia 2. É o primeiro filme de um diretor negro a ganhar a
estatueta. Num relativo sucesso de bilheteria, já faturou mais de US$ 140
milhões. Seu maior feito, porém, está fora da esfera do cinema. A associação
americana de conselhos escolares (NSBA, na sigla em inglês) incluiu o filme no
currículo escolar obrigatório do ensino público. A obra de ficção foi elevada à
condição de documento histórico e material didático. O livro homônimo, em que o
filme se baseia fielmente, ganhou uma versão para crianças e traduções no mundo
inteiro – no Brasil, é publicado por duas editoras diferentes.
Antes do filme, lançado no ano passado, quase ninguém conhecia a história de
Solomon Northup, negro livre e bem-educado de Nova York. Em 1842, ele foi
sequestrado e forçado à escravidão, por 12 anos, em fazendas no sul dos Estados
Unidos. Resgatado por seus amigos brancos, Northup lutou pela abolição da
escravatura e contou sua história a um escritor de livros, David Wilson. O texto
foi encontrado e reeditado nos anos 1960, sem grande repercussão, até chegar às
mãos de McQueen. “Quando conheci o livro, não consegui largar. Foi como ler o
Diário de Anne Frank, mas escrito 100 anos antes”, disse ele. “Minha
ideia era transformar Northup num herói, porque ele é um verdadeiro herói
americano.”
A consagração do filme, ao mesmo tempo, serviu para realçar como a escravidão
de negros, abolida nos Estados Unidos há 148 anos e no Brasil há 125, ainda é
pouco conhecida. No Brasil, por mais de um século, prevaleceu a crença de que
seria improdutivo vasculhar o passado dos negros no Brasil. Os arquivos sobre a
escravidão, dizia-se, se perderam em 1890, dois anos após a abolição, quando o
então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ordenou a queima de documentos para
dificultar pedidos de indenização de donos de escravos. “A carência e a
imprecisão de registros históricos reduziu o brilho de heróis nacionais”, diz
Patrícia Xavier, mestre em história social pela PUC-SP. Em sua tese de mestrado,
Patrícia estudou a vida de Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde,
líder abolicionista morto em 6 de março de 1914 – portanto, há 100 anos. Sua
vida também daria um filme.
Negro livre, Chico trabalhava como prático no porto da província do Ceará.
Como era difícil atracar no mar agitado, o transporte entre navios e a terra
firme era feito em jangadas. Segundo relatos da época, em 1881, Chico liderou os
jangadeiros ao se recusar a transportar escravos. Influenciado pela insurreição
dos jangadeiros, o Ceará aboliu a escravidão em 1884, quatro anos antes de a
Princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Autor de livros como O cortiço, o
escritor negro Aloísio de Azevedo batizou Chico como Dragão do Mar. O Dragão do
Mar é conhecido no Ceará, mas jamais chegou à condição de herói nacional. A
falta de registros sobre sua vida dificultou a divulgação. “Achei que
conseguiria escrever uma história biográfica do Dragão do Mar, baseando-me em
relatos até a década de 1950, mas encontrei fontes escassas e especulação”, diz
Patrícia. “Em vez de pesquisar a vida, passei a pesquisar a variedade de
memórias sobre ele.”
Diante da escassez de registros precisos, diz Patrícia, a figura do Dragão do
Mar foi historicamente apresentada de diversas formas, para atender a diferentes
interesses. “Abolicionistas o retrataram como um negro pobre”, afirma. “Isso é
improvável. Ele era um funcionário público e tinha duas jangadas.” Nos EUA, o
relato de Solomon Northup também não escapa da suspeita de ter sido
interessadamente distorcido. Apesar de Northup afirmar que sua biografia “não
tem ficção ou exagero”, historiadores questionam alguns trechos. Num momento de
sua história, um feitor castiga um escravo até a morte, dentro de um barco. Isso
dificilmente aconteceria na América do Norte, onde a população de escravos
aumentou menos pelo tráfico e mais pelo crescimento populacional. Negros eram
bens valiosos. Podiam sofrer, mas um feitor não teria autonomia para sacrificar
o patrimônio de seu patrão.
A falta de informações sobre escravos, testemunhada por Patrícia, está
prestes a acabar. Nos últimos 15 anos, historiadores encontraram farta
documentação sobre a escravatura no Brasil. O país vive seu auge na divulgação
de novas histórias sobre o papel do negro no trabalho forçado. “Descobriu-se que
as delegacias de polícia, alfândegas, igrejas, arcebispados e casas particulares
estão cheios de documentos”, diz Alberto da Costa e Silva, diplomata, membro da
Academia Brasileira de Letras e especialista em história da África. “Era de
esperar, pois a escravidão durou quase 400 anos.”
O resgate histórico do período de escravidão ganha força à medida que
documentos são descobertos e que a sociedade ganha distanciamento. Um século e
meio de abolição é pouco tempo, mesmo para países jovens como EUA e Brasil. O
diretor Steve McQueen pôde usar, em seu filme, fazendas do Mississippi onde
houve escravidão. O tronco onde dois escravos são espancados, na obra de ficção,
foram usados para chicoteamento, um século atrás. “Aquelas árvores viram tudo”,
diz McQueen. Método de trabalho largamente empregado na Europa, nas Américas, na
Ásia e na África, a escravidão foi extinta apenas na década de 1980 em países
como Serra Leoa. Suas feridas continuam abertas.

Nenhum comentário:
Postar um comentário